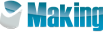A edição 173 da revista Superinteressante abordou a morte da maneira como nós, do setor funerário, não a vemos, mas entendemos muito. Esse texto – interessante para ajudar àqueles que tratam diretamente com as famílias enlutadas, que precisam de conforto e compreensão – foi transcrito da edição de dezembro de 2015 da revista Diretor Funerário, que o compartilhou com seus leitores.
“Há muito tempo, no Tibete, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer nos seus braços, sem que ela nada pudesse fazer. Desesperada, saiu pelas ruas implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a morte do filho.
Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava abatendo. O mestre, então, respondeu que havia, sim, uma solução para a sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda.
A mulher partiu, exultante, em busca da semente. Foi de casa em casa sempre ouvindo as mesmas respostas. ‘Muita gente já morreu nessa casa’; ‘Desculpe, já houve morte e nossa família’; ‘Aqui nós já perdemos um bebê também’. Depois de vencer a cidade inteira sem conseguir a semente pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição.
Voltou a ele e disse: ‘O sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria nas mãos da morte”.
A morte pode ser vista como um mistério incompreensível. Ou como um absurdo inaceitável. A morte pode até ser tratada como um tabu, assunto do qual a maioria das pessoas não gosta de falar. Mas, seja como for, aceitemos isso ou não, a morte é um fato, uma realidade inexorável. E que vem para todos nós.
A morte faz parte da vida. Começamos a morrer exatamente no dia em que nascemos. A morte, portanto, é uma etapa da nossa existência com a qual temos que conviver. Pode-se conviver melhor ou pior com ela. Mas não se pode evitá-la.
Como está dito na fábula tibetana, a morte não é privilégio ou desgraça particular de ninguém. Ela chega para todos sem exceção.
Mas, afinal, se a morte é tão comum e corriqueira, por que ela nos causa tanto medo? “O maior desejo do homem é a imortalidade”, diz a psicóloga Ingrid Esslinger, da Universidade de São Paulo (USP), acostumada a atender pessoas em situação de luto. “Por isso, muitas vezes, a morte é considerada uma inimiga”. E uma adversária, que poderia ser vencida pelos avanços científico-tecnológicos do século XX, que aumentaram indiscutivelmente a eficiência dos diagnósticos, dos medicamentos, das técnicas cirúrgicas, etc. O sonho da permanência ganhou um reforço com as melhorias trazidas pela medicina, com o aumento da expectativa de vida, com a possibilidade de haver cura para todas as doenças, mesmo o câncer ou a Aids. Enfim, soa como um despropósito falar de morte a quem tem as descobertas da ciência a seu favor. Afinal, se existem meios de prolongar a vida útil do ser humano, de manter-se jovem, de atrasar o envelhecimento, de viver mais de 100 anos, por que pensar na finitude?
É um paradoxo: a valorização da vida e a ilusão da eterna beleza e jovialidade trazidas pela vida moderna acabam gerando, por meio do apego a tudo isso, muito mais tristeza e sofrimento pelo fim inevitável da existência do que felicidade pelo mais de vida que proporcionam.
O mundo ocidental transformou a morte em tabu. Ela costuma ser ocultada das crianças e banidas das conversas cotidianas. Tudo aquilo que possa lembrá-la – a enfermidade, a velhice, a decrepitude – é escamoteado. Os doentes morrem no hospital, longe dos olhos – e, não raro, do coração – de seus amigos e parentes.
Na direção certa
O primeiro passo para conviver melhor com a ideia da morte é esquecer aquela imagem medieval de um esqueleto coberto com uma capa preta carregando uma foice afiada na mão. Talvez uma imagem melhor para a morte seja imaginá-la como o fim de uma festa muito bacana. Você aguentaria dançar na pista para sempre?
Por melhor que seja a música, tem uma hora que seu corpo e sua mente pedem descanso. E aí, talvez, seja o momento mesmo de sair a pista, serenamente, sem traumas, e dar lugar a quem está chegando à festa cheio de gás.
O medo da morte é um sentimento inerente ao processo de desenvolvimento humano. Aparece na infância, a partir das primeiras experiências de perda. E tem várias facetas: trata-se de um medo do desconhecido, somado ao medo da própria extinção, da ruptura da teia afetiva, da solidão e do sofrimento. “O medo da morte é fundador da cultura”, diz a socioantropóloga Luce Des Aulniers, responsável pela disciplina Estudos Sobre a Morte, da Universidade de Quebec, em Montreal, Canadá.
“O medo da morte nos força a viver – a nos relacionarmos, a procriarmos, a criarmos, a construirmos coisas que nos transcendam”, diz Luce. Na ilusão da imortalidade, o ser humano acredita que suas obras sejam permanentes e garantam que ele não seja esquecido. Cada um adapta, à sua própria maneira, a máxima “plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho”. Isso ocorre porque, para o nosso inconsciente, a morte nunca é possível nem admissível quando se trata de nós mesmos. “A ideia da não existência provoca tal desconforto que a mente humana acaba criando alguns mecanismos de defesa para fugir dessa realidade”, diz o psiquiatra e psicanalista Roosevelt Smeke Cassorla, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, em São Paulo. A negação e a repressão da ideia de morte são exemplos desses artifícios.
Desde o início
Nada disso é novidade. Desde os tempos mais remotos, os homens já enxergavam a morte como elemento antagônico à vida. As pinturas encontradas nas paredes das cavernas como Lascaux e Chauvert, na França, revelam o incômodo que a morte causava no homem de 30.000 anos atrás. Os episódios alegres, como as caçadas, eram retratados em cores vivas, usando óxido de ferro (alaranjado) ou calcário amarelo. As imagens fúnebres, por sua vez, eram pintadas com cores escuras, com carvão.
O antagonismo se mantém dentro de cada um de nós, no jogo constante entre Eros, o deus grego do amor, e Tanatos, o deus da morte, para usar uma imagem cunhada por Sigmund Freud, fundador da psicanálise. As forças da vida, representadas por Eros, estimulariam o crescimento, a integração, a autoproteção e a sobrevivência. As forças da morte, representadas por Tanatos, alimentariam os instintos destrutivos e as atitudes de autossabotagem, por exemplo. Da conciliação dessas forças contraditórias, surgiriam o equilíbrio e o vigor emocional necessário para viver.
No entanto, o medo de morrer pode gerar um apego desmedido a elementos cotidianos e um consequente desespero diante da possibilidade de vir a “perder tudo” com a morte. Talvez por isso no budismo, assim como na tradição cristã, o desapego é condição essencial para uma “boa morte”.
Você não pode mudar o fato de que vai acabar um dia. Mas você pode mudar o modo como se relaciona com esse fato. Em certas ordens religiosas católicas, os monges, ao se encontrarem nos corredores do mosteiro, costumam dizer uns aos outros: “Memento mori”, uma expressão latina que significa “lembre-se de que vai morrer”. A saudação que é o contraponto de “Carpe diem” (“aproveite o dia”) – funciona como um exercício espiritual de aceitação gradual e diária da morte, vendo-a como uma consequência da própria vida e também de preparação para o momento em que ela acontecer.
O contrário disso é o culto ao ego, ao “pequeno eu” que há dentro de cada um de nós, manifestado na não aceitação no curso natural dos acontecimentos, quando ele não ocorre como gostaríamos.
O sofrimento é um elo da humanidade
Quanto menos você compartilha a sua, mais insuportável ela se torna. As perdas que você acumula ao longo da vida podem tanto potencializar o seu medo da morte quanto ensiná-lo a conviver melhor com a finitude. “Vivemos pequenas perdas todos os dias. Uma separação, uma demissão, a morte de um amigo, a notícia de uma doença incurável”, diz a psicóloga Maria Helena Bromberg, coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre Luto (Lelu), da Pontifícia Universidade Católica (PUC), de São Paulo. “Essas experiências cotidianas de morte nos ajudam a entender que nada dura para sempre. Inclusive nós, em nossa natureza mortal”.
A morte é um assunto tão complexo que sequer há uma concordância entre os cientistas quanto à sua definição. Religiosamente falando, para uns, trata-se de uma passagem, uma transição desta vida para outra, mais plena e feliz. Para outros, é o momento máximo de iluminação, uma forma de libertação do sofrimento.
Há ainda aqueles para quem morrer é simplesmente deixar de existir – como se fôssemos uma lâmpada que se apaga, sem qualquer possibilidade de transcendência.
Pesquisas demonstram que pessoas com forte grau de envolvimento religioso, independente da crença, geralmente têm menos medo da morte.
Em oposição à visão espiritualista da morte, há a tradição materialista ocidental, que surgiu na antiguidade e depois foi retomada pelos filósofos do Iluminismo, a partir do século XVIII, para qual a morte é o fim total e absoluto.
O Ocidente, em seu esforço por não admitir a morte, está há pelo menos 30 anos obcecado pela ideia do jovem como metáfora de vida saudável. O envelhecimento, que também pode ser saudável, é visto sempre como decrepitude – e a morte é vista como a epítome disso. A sociedade ocidental vive um presente perpétuo, imediato.
Um caminho para a reversão dos valores seriam as discussões sobre o assunto na escola, na família, nos hospitais. Falar da morte é transformá-la em aliada, conselheira, em uma presença natural. Lidar com ela de modo saudável significa ter mais realizações, finalizar mais tarefas e pedir mais perdão ao longo da vida. Só assim se vive de modo mais pleno e se pode morrer mais serenamente, rompendo com o hábito de deixar certas decisões para amanhã, depois de amanhã e assim por diante.
Na filosofia oriental, existem práticas específicas de preparação para a morte. A principal delas é a meditação, que tem o objetivo de domar a mente, a ansiedade e as emoções negativas sempre – mas especialmente no momento em que a pessoa se aproxima da morte. A maior tranquilidade dos orientais em relação à finitude se expressa também no maior respeito em relação aos velhos. As pessoas que se encaminham para o final da vida são respeitadas, incensadas.
Reconcilie-se com a morte. Não por morbidez, não para se esquecer de viver, não porque seja bom deixar de existir. Mas simplesmente porque ela vai acontecer e não somente com você – mas com todos que andaram, andam ou venham a andar sobre a Terra.
A nós, portanto, resta apenas aprender a conviver com ela. Encará-la de frente, compreendê-la, admiti-la.